por Ricardo Prado e Lívia Perozim
O ensino brasileiro, público e privado, piorou na última década, indicam os exames de avaliação. O novo plano do governo terá a capacidade de mudar o futuro?
Há boas e más notícias sobre a educação no Brasil. As más foram divulgadas pelo Ministério da Educação na forma dos resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A avaliação feita em 2005 e divulgada em fevereiro deste ano trouxe os piores índices de rendimento entre os alunos da 8ª série do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio desde 1995, ano em que a metodologia do exame foi alterada para que pudesse ser comparável aos resultados de anos posteriores (o exame existe desde 1990). Apenas os alunos da 4ª série apresentaram uma pequena melhora, de três pontos, mas o desempenho ainda é inferior ao de dez anos atrás.
A reação do governo aos péssimos índices da década aconteceu um mês depois da divulgação. No dia 15 de março, o ministro Fernando Haddad lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação, que pretende injetar 8 bilhões de reais nos próximos quatro anos em ações variadas, que abrangem todos os níveis de ensino, das creches ao pós-doutorado. O plano pretende usar os dados do Prova Brasil, uma nova modalidade de exame que permite avaliar os resultados por escola e por rede de ensino, para estabelecer um índice da evolução de cada município. O objetivo é premiar com reconhecimento, apoio técnico e verbas quem apresentar melhor desempenho.
Outro destaque do pacote educacional, reivindicação histórica dos professores, é o estabelecimento de um piso salarial nacional, provavelmente na faixa dos 800 reais. Também haverá mais uma avaliação, o Provinha Brasil, para crianças entre 6 e 8 anos, a criação de 150 escolas técnicas em cidades-pólo, a ampliação do programa Bolsa Família para atender jovens até 17 anos na escola e um programa de pós-doutorado para tentar segurar no País os cérebros mais criativos. As iniciativas foram bem recebidas por educadores e até pela oposição.
O Plano de Desenvolvimento da Educação colocou em evidência o Prova Brasil e é justamente do cruzamento de informações do exame que surgiram alguns sinais de vitalidade pedagógica. São escolas com boa pontuação, apesar da falta de recursos. Como o Prova Brasil permite avaliar o desempenho das unidades de ensino, fica possível identificar estratégias bem-sucedidas. Tímidas ainda, mas exemplares, elas fazem parte das boas notícias, pois revelam que há escolas públicas onde professores ensinam e os alunos aprendem (reportagem na edição impressa).
Se o País um dia tivesse construído um sistema educacional consistente, estaríamos diante da derrocada da educação. Mas não dá para ser saudosista com o que nunca houve. A “época de ouro” das escolas públicas de bom nível foi mantida ao preço de excluir dela a imensa maioria da população.
Quando, finalmente, a educação se tornou pública, a partir do fim do regime militar, nos anos 80, e houve uma vigorosa expansão da oferta que desdenhou a qualidade da inclusão, nos anos 90, o quadro revelado é desolador. “O desempenho é apenas um indicador do sistema educacional. Há uma queda, mas há dez anos o resultado já era baixo. São dados vergonhosos, mas temos de levar em conta que há mais gente na escola”, avalia Creso Franco, pesquisador da PUC do Rio de Janeiro.
Especialista em estatísticas educacionais, Franco credita dois terços da queda, que já começa de um patamar insuficiente, a um feito da maior oferta de vagas: hoje chegam à 4ª série alunos que, no passado, nem sonhavam com a possibilidade. Eles compuseram outro perfil social das instituições de ensino, o de crianças sem acesso à educação infantil e cujos pais apresentam baixo nível de escolaridade. O terço restante estaria relacionado a problemas conhecidos e até agora não enfrentados, entre eles a má formação dos professores, a desvalorização da carreira, os baixos salários, a má aplicação de recursos e a falta de compromisso com a educação pública.
No período de 1995 a 1999, durante a gestão do ministro Paulo Renato Souza, houve uma significativa incorporação de novos alunos. De acordo com Reynaldo Fernandes, presidente do Inep, órgão do MEC encarregado das estatísticas educacionais, experiências internacionais mostram que todo processo de inclusão acarreta uma piora da qualidade do ensino. Isso, segundo ele, explicaria a queda acentuada de desempenho no exame no ensino médio. “Os alunos fazem parte das primeiras gerações da inclusão”, completa.
Para o educador Mario Sérgio Cortella, da PUC de São Paulo, depois da universalização da matrícula, “é necessário universalizar a permanência nos estados e municípios”. Para ele, ex-chefe de gabinete do pedagogo Paulo Freire, a quem substituiria à frente da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, também é necessário lidar melhor com a democratização nascida com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996. “O número de municípios que têm, de fato, um Conselho Municipal de Educação paritário, deliberativo, com a participação da sociedade civil e do poder público, e que esteja eficazmente funcionando, é muito restrito”, lamenta.
O resultado da proposta da LDB, que poderia ser usada em favor de uma abordagem mais coerente com as especificidades de cada região, forma um conjunto caótico e disforme. Há poucos municípios, cerca de duas centenas, segundo uma apuração recente do MEC, capazes de servir de exemplo aos mais de 5 mil que não sabem o que fazer com tanta liberdade. Muitos adotaram uma “privatização branca” e entregaram a grupos educacionais privados o fornecimento de material didático apostilado e a própria condução da política educacional local. Isso porque a legislação brasileira garante ampla autonomia a estados e municípios.
De 1827 até o golpe militar de 1964, o currículo das escolas do então ensino primário era de responsabilidade das províncias e dos estados. A partir de 1837, o ensino secundário, que abrangia da atual 5ª à 8ª série e o ensino médio passaram a ter como referência o currículo do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, fundado em 1837. Sua adequação precisava ser referendada pelo Ministério da Educação. Em 1967, com a Constituição imposta pela ditadura, o então Conselho Federal de Educação criaria uma tabela disciplinar e curricular obrigatória em todo o Brasil, que especificava a carga horária e a quantidade de aulas por semana de cada matéria, para todos os níveis de ensino.
A idéia de um currículo único nacional seria profundamente remodelada em 1996, com a LDB. Coube à União estabelecer diretrizes e não mais um quadro disciplinar curricular. Essas diretrizes deveriam apontar grandes conteúdos e não saberes específicos. Estados e municípios cuidariam de “aclimatar” as linhas mestras às realidades das regiões. E as escolas adequariam as diretrizes ao projeto político-pedagógico feito pelos professores.
O problema, segundo Carlos Jamil Cury, professor da PUC de Minas Gerais e ex-integrante do Conselho Nacional de Educação, é que a LDB exige uma cultura de diálogo entre diversas instâncias: União, estados, municípios e o corpo docente de mais de 200 mil escolas. “Se essa cultura não se instala, é mais fácil voltar ao sistema antigo, centralizado. O que temos hoje é um certo grau de dispersão, visto como pior do que a situação anterior. Há uma dificuldade cultural em se exercer a liberdade curricular criada pela legislação”, diz Cury.
Para ele, são outras as causas do mau desempenho dos estudantes nas avaliações, como as condições materiais de trabalho nas escolas, muito frágeis, a ausência de boa parte das crianças de 0 a 5 anos na educação infantil, com efeitos sobre o futuro desempenho no ensino fundamental, além da pouca atratividade da carreira de professor, seja por prestígio, seja por remuneração. “Um professor estável, com horas de trabalho e não apenas horas-aula, seria muito mais acessível às famílias, aos colegas e à coordenação pedagógica, e poderia dar um atendimento específico aos que têm dificuldades de aprendizagem. Hoje temos um professor volante, sem tempo para permanecer na escola porque precisa dar aulas em outra”, avalia.
Já Creso Franco acredita que a descentralização, ao abrir mão de criar um projeto nacional de educação, dificulta a melhora dos índices: “Falta unidade ao sistema. Qualquer município pode escolher o currículo, mas a maioria não se preocupa. É claro que se deve contemplar a diversidade, mas ninguém me convence de que há habilidades básicas tão diferentes em Português e Matemática que não possam ser aprendidas por um alagoano, um paulista ou um carioca. É um exagero que contribui para aumentar as desigualdades.”
A própria escala do Saeb, de 0 a 500 pontos, expõe a dificuldade em se aferir a expectativa em relação a um conjunto de conhecimentos necessários para cada nível de ensino. A média dos alunos de 8ª série em português, por exemplo, foi de 231,9 pontos e só pode ser comparada às médias dos anos anteriores, porque não há um valor mínimo a ser alcançado.
“Seria muita pretensão nossa estabelecer um parâmetro nacional. Temos de achar um consenso com os educadores envolvidos. Mas os gestores públicos devem saber interpretar os resultados da rede”, afirma o economista Amaury Gremaud, do Inep. Para o ex-ministro da Educação do governo FHC deputado Paulo Renato Souza, o Saeb é barato, mas se não for utilizado se torna um desperdício. “Ele tem de ser usado para a elaboração das políticas públicas. O presidente foi eleito com 60% dos votos, o Congresso está com força, é hora de definir um projeto, com base nos resultados”, defende.
Com resultados tão desanimadores, o pífio aumento do desempenho da 4ª série é motivo de comemoração para Fernandes, do Inep: “Significa a virada de jogo nas séries iniciais”. No entanto, segundo Franco, tal aumento acompanha a elevação dos índices de reprovação nas séries iniciais. Embora os microdados do Saeb não estejam disponíveis, ele arrisca: “Temo que a melhora seja superficial. Não dá para ficar satisfeito, pois o desempenho em uma série melhorou à custa da reprovação”.
O mal-estar causado pelos resultados do Saeb não se limita apenas ao ensino público. A escola particular, embora tenha médias maiores, também apresentou queda no desempenho e resultados insatisfatórios. “O setor privado é muito heterogêneo e a maior parte das escolas atende a classe média baixa. Mas o problema é que parte das escolas passou a focar o mercado de trabalho e não fazem nem isso direito”, afirma Cury.
No caso do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujo resultado foi divulgado juntamente com o do Saeb, Cury ressalta que a média das escolas particulares na prova objetiva foi de 50 pontos em 100: “Pode ser maior que os 35 da escola pública, mas ainda é muito pouco”. De certa forma, grande parte das instituições privadas enfrenta os mesmos problemas das públicas. Tem uma carga horária aquém do desejado, um método de ensino-aprendizagem que não muda e dificuldades de contratar bons professores. Ou seja, pública ou privada, a educação no Brasil se encontra “no pior dos mundos”, como qualificou o presidente Lula ao anunciar as linhas gerais do plano de educação.
Talvez a boa notícia seja a sensação de inconformismo diante do quadro deplorável do ensino, onde os estudantes, após quatro anos de estudo, não sabem ler, escrever ou fazer contas. O próximo passo é que o inconformismo resulte em soluções. A reportagem que se segue revela que é possível encontrar saídas mesmo nos locais mais improváveis. São escolas nas quais a persistência e o talento se juntaram ao compromisso público em ensinar de verdade.
http://www.cartacapital.com.br/edicoes/2007/abril/439/impavido-colosso
skip to main |
skip to sidebar

Mostra sua Cara!

Não sou blogueira mas gosto de vir aqui e compartilhar algumas coisas com vocês.Algumas coisas eu mesma escrevo e outras são linkadas.

Premio Dardo (Emilia)

Presente da Emilia

O conhecimento só se dá de forma coletiva e compartilhada. Todo conhecimento se produz coletivamente: estimulado pelos livros que lemos, pelas palestras que assistimos, pelas idéias que nos foram dadas por nossos professores e amigos... Como podemos criar algo que não tenha, de uma forma ou de outra, surgido ou sido transferido por algum "dispositivo de comunicação ou sistema informatizado, sem autorização ou em desconformidade à autorização, do legítimo titular"? Defendemos a liberdade, a inteligência e a troca livre e responsável. Não defendemos o plágio, a cópia indevida ou o roubo de obras. Assine

“Feliz é aquele que sabe ao certo o que procura, pois quem não sabe o que procura, não vê o que encontra.”

O que nos impede na maioria das vezes de ter o que queremos de ser o que sonhamos de fazer o que pensamos e aceitar com o coração é a ousadia que não cultivamos. Clarice Lispector

Uma única conversa à mesa com um homem inteligente é melhor do que dez anos estudando simplesmente os livros. (Henry Wadsworth Longellow)
Obrigada pela visita!
Olaaaa, eu sabia que você viria! Sua visita e comentário é muito importante pra mim.
Volte mais vezes e traga seus amigos ok.
Beijocas.
Volte mais vezes e traga seus amigos ok.
Beijocas.
Visitantes Online
Seguidores do meu Blog
BRASIL

Mostra sua Cara!
Você acredita que o maior desafio da sociedade brasileira é:
Minhas frases prefeeridas!
Obrigada por comentar!
Widget by Blogger Templates
Me deixa um recadinho!
Sandra Cantii

Não sou blogueira mas gosto de vir aqui e compartilhar algumas coisas com vocês.Algumas coisas eu mesma escrevo e outras são linkadas.
Onde me encontrar!
Premios que ganhei!

Premio Dardo (Emilia)

Presente da Emilia
Links Favoritos
Blogs de Amigos
Marcadores
a
Acidente
Animais
Autos
Bebida
Bem Viver
Blog
Brasil
Campanha
Caricatura
Charge
Cidadania
Ciência
Cinema
Coisas minhas
Comportamento
Comunicado
Comunismo
concurso
Culinaria
Cultura
Curiosidades
Datas comemorativas
Decisoes
Decoraçao
Denuncia
Dicas
Dicas de saude
DIreito e Deveres
Documentário
Economia
Educação
Eleições 2008
Entretenimento
Espiritualidade
Esporte
Etiqueta
Familia
Filmes Politicos
Fotografias
G8
Games
Gastronomia
Globo
GLS
Gosto não se discute
Grandes Nomes
Homens Destaque
Humor
Imagens
Infantil
Informatica
Informativo
Internacional
Internet
Jose Saramago
Justiça Social
Lingua Portuguesa
Livros
Meio Ambiente
Midia
Mistico
Mitologia
Mulheres
Mundo
musica
Negócios
Numerologia
Olimpiadas
Opiniao
Pais e Filhos
Paulo Henrique Amorim
pesquisa
Piadas
Plantão
Policia
Politica
Povo Indigena
Premio
Presidente
Promoção
Propagandas
QI
Qualidade de Vida
Receita
Reflexão
Sandra
Saude
Sexualidade
Social
Socialismo
Sociedade
Tecnologia
Televisão
Templarios
testes
Textos
Video
violencia
Meus amigos Compositores
Diga NÃO ao projeto Senador Azeredo!

O conhecimento só se dá de forma coletiva e compartilhada. Todo conhecimento se produz coletivamente: estimulado pelos livros que lemos, pelas palestras que assistimos, pelas idéias que nos foram dadas por nossos professores e amigos... Como podemos criar algo que não tenha, de uma forma ou de outra, surgido ou sido transferido por algum "dispositivo de comunicação ou sistema informatizado, sem autorização ou em desconformidade à autorização, do legítimo titular"? Defendemos a liberdade, a inteligência e a troca livre e responsável. Não defendemos o plágio, a cópia indevida ou o roubo de obras. Assine
Reflexão

“Feliz é aquele que sabe ao certo o que procura, pois quem não sabe o que procura, não vê o que encontra.”
Ousadia

O que nos impede na maioria das vezes de ter o que queremos de ser o que sonhamos de fazer o que pensamos e aceitar com o coração é a ousadia que não cultivamos. Clarice Lispector
Homem Inteligente

Uma única conversa à mesa com um homem inteligente é melhor do que dez anos estudando simplesmente os livros. (Henry Wadsworth Longellow)

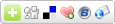










.png)














0 comentários:
Postar um comentário